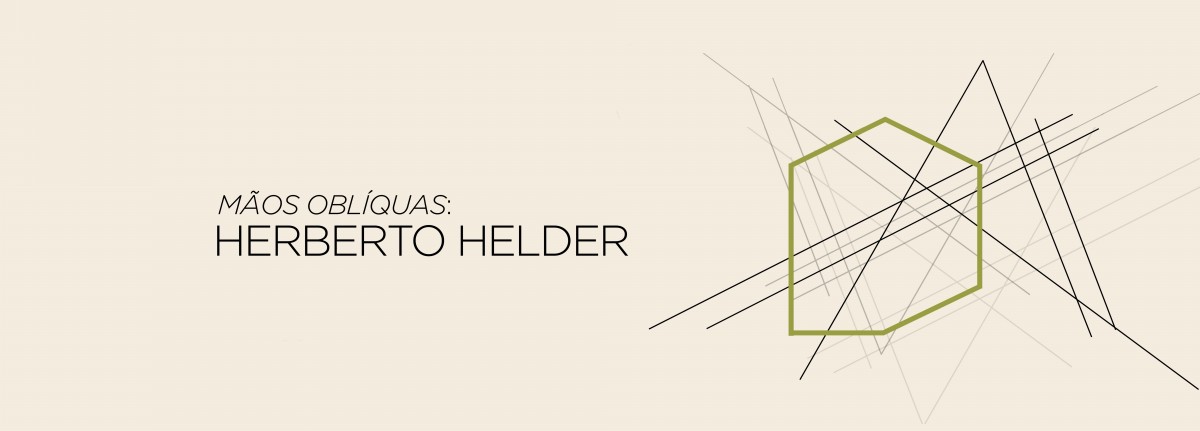Voltar à página "Projecto Mãos Oblíquas"
* Republica-se aqui, com ligeiras alterações, a primeira parte de:
Rita Novas Miranda, «Da Mão ou Algumas Mãos de Herberto Helder», Colóquio/Letras, n.º 196, 2017, pp. 97-111.
[Retomando a apresentação.] A mão, a imagem e a linguagem estão desde os princípios da humanidade intimamente ligadas. Uma evidência, é certo, mas as implicações são numerosas. Recuamos no tempo, encontramo-nos no Paleolítico. André Leroi-Gourhan mostrou de que modo na arte paleolítica havia uma ligação íntima entra a libertação da mão (verticalidade do ser humano) e a figuração, evidenciando de que modo esta última, desde cedo, constituía uma linguagem simbólica através da repetição das mesmas figuras e padrões representativos numa só gruta ou em grutas diferentes. Estas figuras em relação, de carácter claramente simbólico, teriam, consequentemente, uma correspondência com um contexto oral (cf. Leroi-Gourhan, 1964: 273). A mão que desenha (ou que é figurada como as mãos positivas e negativas) cria uma linguagem, assinala uma presença e uma memória.
Avançamos, então, no tempo, «estamos na segunda metade do século XX», como a «(mão)» de Herberto Helder em Photomaton & Vox (1979: 50). Helder recupera esta ligação primordial – mão-imagem-linguagem – na sua obra. A poesia helderiana constitui-se no gesto de fazer imagem, é altamente figurativa, mesmo que essa figuração implique a abstracção, um ponto de cegueira, porque as imagens em Helder não são exclusivas do visível, isto é, são imagens que dão a ver, mas que não podemos propriamente conceptualizar [ver nota 1]. Se é possível, de certo modo, considerá-la figurativa, tal tem que ver, em parte, com a repetição, em contextos e com pesos diferentes, de alguns termos-figuras que constituem uma espécie de cosmogonia, termos como «rosa», «estrela», «laranja», «cabeça», «mão», só para convocar alguns. A este propósito, Silvina Rodrigues Lopes assinalou como, em Herberto Helder, a poesia é «exercício de uma maneira única de engendrar as figuras acolhendo-as, e de as recortar, ordenando-as. Não basta admitir que as figuras não são independentes das constelações em que se integram, o poema é poema no saber que não é uma dádiva absoluta, mas uma tensão, um conflito» (Lopes, 2003: 67-68). É a relação entre figuras e entre imagens – em tensão, em conflito – que está assim em causa, e por isso talvez o termo mais correcto seja «figurabilidade», possibilidade de dar a ver uma imagem que não é propriamente nítida, cujos contornos são impossíveis de traçar, de fechar. Analogamente, o carácter simbólico da poesia helderiana não tem que ver com o símbolo a desvendar – nenhum símbolo ou conjunto de símbolos é estável. Trata-se, sobretudo, da força, da potência de cada um deles e deles em relação, ou, nas palavras de Helder em «(a mão negra)»: os símbolos «possuem a força expansiva suficiente para captar tão vasto espaço da realidade que a significação a extrair deles ganha a riqueza múltipla e multiplicadora da ambiguidade» (Helder, 1979: 53). O símbolo é, aqui, uma espécie de ponto luminoso que pode atrair e, simultaneamente, dispersar as imagens e os sentidos que convoca, implica sempre o gesto de «colocar o símbolo contra o símbolo» (ibid.). No mesmo texto, a relação entre mão e imagem aparece como uma relação na linguagem, uma relação que se estabelece na escrita: «O valor da escrita reside no facto de em si mesma tecer-se ela como símbolo, urdir ela própria a sua dignidade de símbolo. A escrita representa-se a si mesma e a sua razão está em dar razão às inspirações reais que evoca» (ibid.: 54). É o seu carácter simbólico, no sentido enunciado, que se repercute naquilo que, à falta de melhor termo, chamamos o real, porque esse é o poder performativo e metamorfoseador da linguagem: «Chega a mão a escrever negro e conforme vai escrevendo mais negra se torna» (ibid.: 55). Voltaremos aqui.
A mão pode, assim, ao longo da obra de Herberto Helder, apresentar-se como figura, dom, passagem, experimentação, criação, escrita, e poderíamos talvez continuar. A mão será, sobretudo, aquela que incorpora, insubordinadamente, a «lei da metamorfose», como no texto «Teoria das Cores» que hoje encontramos em Os Passos em Volta.
Entre as mãos, a cabeça
Quando falamos de mãos, falamos de corpo. Na circulação dos nomes na poesia helderiana, o corpo não é propriamente uno, este aparece fragmentado, e/ou atravessado; os seus membros podem tornar-se independentes, separáveis, um corpo sem pés nem cabeça, para lembrar Baudelaire, ou talvez, aqui, um corpo sem mãos nem cabeça [ver nota 2]. As mãos e a cabeça são talvez os membros que aparecem mais vezes separados e aqueles que podem ganhar vida própria – pensamos nos textos «(mão)» e «(outra)», de Photomaton & Vox, e nas cabeças independentes que proliferam, por exemplo, no livro Cobra (na sua primeira edição, que compreendia o que hoje conhecemos como «(memória, montagem)», Etc., Exemplos e Cobra, este excluído de Ofício Cantante em 2009) [ver nota 3]. Se as cabeças livres de corpo parecem encarnar uma subversão do racional em favor de uma visão alucinada, as mãos independentes do corpo aproximam-se de uma ideia paralela: ao romper a relação entre a mão e o corpo, é não só a racionalidade que é posta em causa, mas também a funcionalidade, as suas práticas comuns. E, a partir daqui, a mão pode ser associada ao gesto e ao toque, a uma ligação mais próxima e primordial com a matéria, uma ligação que não passe necessariamente pela função: «Mão que revolves a substância primordial./ Barro, fundamento» (Helder, 1982: 378), lemos no poema «Mão: A Mão» de A Cabeça entre as Mãos.
Em Sobre a Alma, Aristóteles considerou a mão, comparando-a à alma, como «instrumentos dos instrumentos» (III, 8, 432a1), aquele que pode adquirir toda e qualquer função, não tendo nenhuma designada. Trata-se tanto do instrumento mais importante entre todos os instrumentos, quanto do instrumento que pode ser todos os instrumentos, pode manusear qualquer ferramenta, transformando-se, de cada vez, nela, e podendo sempre substitui-la por outra. A mão é, deste modo, o órgão que não tem uma função específica, não é especializado, mas pode adquirir, através das mais diversas ferramentas, todas as funções – é, como escreveu Rémi Brague, «o meio de todos os meios» (cf. Brague, 1988: 119). A mão significa a liberdade em relação a qualquer conteúdo determinado, é a abertura a todos os possíveis (ibid.: 238). Em Herberto Helder, parece ser, neste sentido também, que a mão, enquanto abertura ao possível, membro-veículo da escrita (e lembremos de que modo essa mão é tantas vezes solidária dos artesãos – aqueles que, por excelência, manipulam as ferramentas –, no sentido primeiro de poiesis, o do fazer, do fabricar), está eminentemente ligada à criação.
A Cabeça entre as Mãos não falará de outra coisa. Este título, que pode indicar tanto a posição de quem reflecte ou está preocupado quanto a posição fetal (por um lado, criador, por outro, criatura), põe em evidência essa relação entre os dois membros tantas vezes separados. Livro de onze poemas, de que apenas cinco têm título (podendo também ser lidos como títulos de secções): «De antemão», «Mão: A Mão», «Todos os Dedos da Mão», «Onde não Pode a Mão» e «Demão». Estes títulos, por sua vez, parecem criar um ciclo que vai do antes significado por de antemão à segunda mão, segunda camada – que é igualmente retoque, aperfeiçoamento (o que em Helder pode ter que ver com a noção de reescrita) –, significada por demão. Estamos num universo completamente manual, no qual assistimos a uma espécie de Criação do Mundo. Dizemo-lo, por agora, literalmente, pois o primeiro poema do livro, «De antemão», pode ser lido como a criação de Adão em termos próximos dos do segundo capítulo do Génesis:
Tocaram-me na cabeça com um dedo terrificamente
doce, Sopraram-me,
Eu era límpido pela boca dentro: límpido
engolfamento,
O sorvo do coração a cara
devorada,
O sangue nos lençóis tremia ainda:
[...]
(Helder, 1982: 371)
Se lermos aqui, através de elementos como o toque na cabeça, o sopro, a limpidez primeira, o sangue, uma cena de nascimento, lembrar-nos-emos imediatamente daquela que é descrita na Bíblia: «Deus formou o homem do pó da terra e insuflou-lhe pelas narinas o sopro da vida, e o homem transformou-se num ser vivo» (Génesis II, 7). E podemos encontrar sugestões desta cena em todo o livro, dado que se sucedem referências ao barro e à argila, ao sopro e ao fôlego, ao sangue, ao baptismo, ao dar nome, tal como outras que a estas se associam. Seguindo esta linha de sentido, poderíamos também ler, no poema seguinte, o nascimento de Eva, no aparecimento de um tu feminino:
[...]
Assim a estrela com dois membros
cravados recebendo
o tremor do mundo, E toda essa
massa peristáltica esmaga
a argila táctil: um pequeno músculo
convulso no fundo de água:
um troço de sangue nas costas, Que lhe passes
pelas roupas e a nudez
as tuas armas, Ou lhe ponhas no escuro um incêndio:
e te ilumines dele, E a tua cara se faça
miraculada
à combustão, E entres rutilante por uma porta
para outra porta, Essa porta que dê
para uma porta de ti própria,
A mão ateando a escrita que se desloca
brilha direita,
Toca-te toda: tocas no chão
através dela, A terra
treme
quando lhe tocas, Tudo
se transmite e transforma,
A gangrena é uma força, Tu és a raiz dele,
[...]
(Helder, 1982: 373-374)
Os vários nascimentos que podemos ler em Helder estão eminentemente ligados à linguagem. Neste sentido genésico, a linguagem é entendida como gesto de passagem, vida que insufla vida, trata-se da propagação do sopro, ar que atravessa o corpo, inspiração e expiração, permitindo que a criação se desenrole, outra forma de dizer multiplicação, transformação, metamorfose: «Tudo/ se transmite e transforma» (ibid.) [ver nota 4]. Se aceitarmos ler nestes poemas uma evocação da criação de Adão e Eva, não se trata propriamente da criação bíblica, porque este nascimento é de um e do outro, de um pelo outro, dada a indefinição do feminino e do masculino.
O que é particularmente interessante em A Cabeça entre as Mãos é a forma através da qual a ligação entre criação e linguagem emerge de um universo, como dissemos, completamente manual, funcionando através da multiplicação da mão, dos dedos e de várias formas do verbo «tocar». Lembremos que em Sobre a Alma, Aristóteles dedica longas páginas à questão dos cinco sentidos humanos, com o objectivo de mostrar de que modo o tacto é o sentido mais importante, fundamental e universal (todo o corpo animado é um corpo táctil). O tacto, sentido separável da visão, da audição, do olfacto e do paladar, enquanto estes o pressupõem, é, consequente e fundamentalmente, o sentido indispensável à vida enquanto tal (cf. Chrétien, 1992: 103) [ver nota 5]. No entanto, a mão, considerada por vários pensadores ao longo dos séculos como o órgão privilegiado do tacto, não o é para Aristóteles, o tacto, enquanto sentido extensível a quase todo o corpo (à carne), seria o único sentido sem órgão. Visão que não parece estranha a Helder – mesmo que a mão seja central – quando, no que poderíamos considerar uma festa dos sentidos, com o tacto associado aos outros, escreve: «Os dedos:/ uma estrela poderosa, Toco-te cheia/ de fósforo/ de sangue/ de força eléctrica, [...] És o teu próprio nexo,/ Toco-te apenas,/ Suor:/ tensão: o diamante que toco:/ tacto contra tacto:/ a língua/ presa por uma veia negra: o odor: o bafo/ – toco-te» (Helder, 1982: 382-383). Toca-se com todo o corpo, e tocar é imediatamente ser tocado pelo que se toca, experimentar a sua própria tangibilidade (cf. Chrétien, 1992: 103) . Assim, quando nos referimos a uma indefinição do masculino e do feminino neste livro, em termos aristotélicos podemos falar no carácter transitivo da sensibilidade, no sentido em que esta não seria reflexiva, precisaria da alteridade para sentir (ibid.: 141), isto é, o aparecimento de um tu, como em tantos poemas helderianos (pensemos, a título de exemplo, nos de Photomaton & Vox, agrupados no conjunto «Dedicatória» em Poemas Completos), é essencial à presença no mundo. Jean-Louis Chrétien escreveu que, para Aristóteles, «se sentir soi-même n'est pas un commencement, il est une réponse à l'appel du sensible autre que moi sur lequel s'exerce mes actes. Je ne commence pas par dire je, je ne suis je qu'en étant tutoyé para le monde» (ibid.: 142).
É curioso que num texto sobre o tacto, Chrétien utilize a metáfora da linguagem, de ser tratado por tu pelo mundo. Em A Cabeça entre as Mãos, a mão mantém, metonimicamente, uma relação com a linguagem, e através dela com a fala (dar nome) e com a escrita, implicando sempre uma segunda pessoa do singular. Desde o primeiro poema, estabelece-se uma relação com o nome – «E quando me tocaram na cabeça com um dedo baptismal:/ eu já tinha uma ferida/ um nome,/ E o meu nome mantinha as coisas do mundo/ todas/ levantadas» (Helder, 1982: 372) – e com a escrita – «A mão ateando a escrita que se desloca/ brilha direita» (ibid.: 374). A verdadeira libertação da mão em Herberto Helder, a sua abertura a todos os possíveis, tem que ver com a possibilidade de criar o mundo, de criar mundo, através da linguagem, e seria isso o «dar razão às inspirações reais que convoca» (Helder, 1979: 54). A este propósito, Rosa Maria Martelo escreveu: «poucas obras do século XX terão sido tão extremas nesta convicção de que para ser do mundo [...], a obra deveria libertar-se de tudo o que não fosse a energia da matéria que lhe serve de suporte» (Martelo, 2016: 19) [ver nota 6].
A criação helderiana diz assim respeito à relação que convocámos entre a mão, a imagem e a linguagem, isto é, outra forma de dizer a criação do poema: «As mãos: a cabeça/ entre as mãos: a voz/ entre fôlego e escrita, Nas cavernas/ do mundo» (Helder, 1982: 385). O corte dos versos faz, primeiro, através dos dois pontos, equivaler as mãos e a cabeça, só depois aparece a imagem, cortada, da «cabeça entre as mãos» que dá título ao volume, mas, nesta sequência, «entre as mãos» equivale-se à «voz», que, por sua vez, se encontra «entre fôlego e escrita». É como se o título se desdobrasse e lêssemos: a voz entre fôlego e escrita – as mãos sendo significativamente substituídas pelo fôlego e pela escrita –, e os seus termos fossem outra forma de dizer a relação da criação do poema com o criador e com o mundo ou do criador e do mundo no poema.
Se a escrita designa nascimento, designa também a morte (a ideia de ciclo torna-se, deste modo, ainda mais pertinente), quando nos últimos versos do livro lemos: «Fechas os olhos: e as/ coisas não te vêem,/ As mãos brilham-te abertas,/ A morte aumenta a cara» (ibid.: 396). A visão cega associada ao tacto não é apenas a experiência da sua própria tangibilidade, é-o também da perecibilidade, da simultânea força e vulnerabilidade do humano e do poema [ver nota 7].
MÃOS SEM GENTE & BIBLIOGRAFIA
Para a segunda parte do texto e a bibliografia: ver separador MÃOS SEM GENTE
Notas:
1. Sobre esta questão, escrevemos longamente em «De uma certa cegueira», Modos de Ver, Modos de Escrever: Da Imagem e da Escrita em Herberto Helder e em Jean-Luc Godard, Porto, Afrontamento, 2018.
2. Referimos o célebre prefácio de Baudelaire em Le Spleen de Paris. Petits poèmes en prose [O Spleen de Paris, trad., pref. e apêndice de Jorge Fazenda Lourenço, Lisboa, Relógio d'Água, 2007]. Sobre a questão do corpo em Herberto Helder, ver as teses de doutoramento de Daniel Rodrigues, Les Démonstrations du corps. L'œuvre poétique de Herberto Helder, Univ. de la Sorbonne nouvelle – Paris III, 2012, e de Ana Cristina Joaquim, O Corpo, O Corpus – Poemas e Interseções Discursivas: Artur do Cruzeiro Seixas, Herberto Helder, Mário Cesariny de Vasconcelos, Univ. de São Paulo, 2016.
3. Sobre o livro Cobra e as «cabeças», que mencionamos de seguida, escrevemos em «Um filme de Herberto Helder, um poema de Jean-Luc Godard», Relâmpago, n.º 38, 2016, pp. 167-182.
4. Lembremos, a propósito, a noção de «Deus» na poesia de Helder, e o que esta implica em relação ao sentido e à figurabilidade, nas palavras de Silvina Rodrigues Lopes: «a voz funda uma comunidade muito particular, a qual não sendo uma totalidade imanente, também não assenta num princípio transcendente. Constitui-se no movimento de transcender-se, ou por outras palavras, recusa Deus como causa, admitindo-o no entanto como potência [...]. A ideia de Deus como potência afasta-nos de qualquer teologia [...]. É que, quer se encontre uma representação de Deus, quer se reconheça a impossibilidade de o representar, Deus como causa garantiria a estabilidade do sentido, isso mesmo que a figurabilidade do discurso poético põe em questão» (Lopes, 2003: 78-79).
5. Um pouco antes, Jean-Louis Chrétien escrevia: «"Toucher", dit Merleau-Ponty, "c'est se toucher" [Le Visible et l'Invisible, 1964, p. 308], et Henri Maldiney précise : "En touchant les choses en effet nous nous touchons à elles, nous sommes à la fois touchant et touchés" ["La dimension du contact au regard du vivant et de l'existant", in J. Schotte (éd.), Le Contact, 1990, p. 177]. L'épreuve tactile de l'autre est aussi bien l'épreuve de soi» (Chrétien, 1992: 102).
6. Noutro ensaio, escrevendo sobre o poema «bic cristal preta doendo nas falangetas», de A Faca não Corta o Fogo, a autora sublinha o carácter aurático da criação poética de Herberto Helder: «Neste poema a figuração do poeta e da escrita inscreve-se naquele movimento caracteristicamente herbertiano da apropriação retrospectiva das teorias românticas da inspiração, a partir da concreção imagética moderna e do visionarismo surrealista. [...] [O] poeta trabalha aqui como um médium, canalizando uma força criativa que o excede e trespassa, e que o entrega à morte para poder materializar-se em poema. Na poesia contemporânea, esta é certamente uma das mais poderosas cenas de escrita que podemos encontrar. E isto porque ela evoca uma ideia hölderliniana de criação. Embora recorra a um tipo de concreção imagética que os românticos não poderiam ter usado, a escrita de Herberto Helder permanece aurática, reabilitando, contra todas as expectativas modernistas e pós-modernistas, a concepção romântica do entusiasmo como um misto de auto-aniquilamento e transcendência de si» (Martelo, 2010: 331). Esta será também uma das formas de entender a mão helderiana enquanto passagem, veículo atravessado pela escrita.
7. Sobre a associação entre a cegueira e as mãos, ver Jacques Derrida, Mémoires d'aveugle. L'autoportrait et autres ruines, Paris, Réunion des musées nationaux, 1990.
* Republica-se aqui, com ligeiras alterações, a segunda parte de:
Rita Novas Miranda, «Da Mão ou Algumas Mãos de Herberto Helder», Colóquio/Letras, n.º 196, 2017, pp. 97-111.
As mãos de Herberto Helder proliferam, proliferam de tal forma que encontramos mãos que se tornam independentes dos corpos que as sustentariam. Mãos, muitas mãos que se declinam: «uma mão», «outra mão», «esta mão». Em Photomaton & Vox, temos uma sequência de três textos que parecem, como noutros momentos do livro, ser uma espécie de resposta entre si, trata-se de «(mão)», «(outra)» e «(mão negra)».
Em «(mão)», é-nos introduzido um desejo: «Quero falar de uma só mão: que aprendeu a ser imóvel no meio das ervas secas, em terrenos baldios» (Helder, 1979: 50), imediatamente seguido da localização temporal: «Estamos na segunda metade do século XX» (ibid.). Não se trata de uma mão qualquer, é «uma só», encontra-se num sítio que se afigura improdutivo e sem proprietário, é nossa contemporânea (ou melhor, contemporânea do texto mesmo que lemos). Não se trata da mão produtiva, esta alcançou «a sabedoria da imobilidade» (ibid.), mas está, inevitavelmente, ligada à escrita, pois podemos dizer que a realidade que a circunda é ela mesma escrita: «As ervas morrem e ressuscitam mas aqui estão escritas como secas» (ibid.; sublinhados nossos).
Há uma forte ambiguidade neste texto na ligação da mão com a escrita, dado que é o meio que é escrito e a mão não parece ser aqui veículo da escrita. No entanto, «A mão pensa» (ibid.). A intransitividade primeira do verbo pensar, logo se transforma, porque esta mão pode fazer tremer as ervas escritas: «Começa a pensar, primeiro lenta, e depois com mais força e velocidade. É o que se vê pelo tremor das ervas. Podiam dar-lhe o nome de revólver» (ibid.). A circulação dos nomes pode fazer com que mão possa ser substituída por – ou sobreposta a – revólver, e encontramos essa acepção aristotélica da mão como uma não-ferramenta que pode ser todas as ferramentas. Podemos dizer que se Aristóteles comparava a não especialização da mão com a da alma, a analogia de Helder é entre a não especialização da mão e a não especialização da linguagem quando o seu vínculo comunicativo é suspenso, isto é, quando a linguagem não obedece a nenhuma lei, a nenhuma gramática, não é mero veículo. A mão é, assim, o membro que encarna, com a linguagem, a metamorfose por excelência, podendo nada ser e tudo devir.
Esta mão intervém na escrita, pode fazer viver e pode matar, a sua não especialização permite-lhe tanto fabricar, poiesis, como utilizar, manejar, praxis (cf. Brague, 1988: 119). Porém, aqui, a mão, embora siga a «lei da metamorfose», parece recusar-se tanto à fabricação quanto à acção: esta não é nem «a mão assassina» (como o era a de Apresentação do Rosto; e é talvez por não ser a mão assassina que não é a mão que escreve [ver nota 1]) nem é a «mão estética», é uma mão imóvel e que consegue um «silêncio inconcebível» (Helder, 1979: 50-51). A mão pensa, mas, de certo modo, não age, como se representasse um Bartleby que já nem dissesse «I would prefer not to» e ficasse remetido ao silêncio, «Porque essa mão nunca falou» (ibid.: 51).
A mão, uma só, parece conservar uma memória imemorial, fazendo alusão à perda de um espírito primitivo, propriamente manual, ligado à terra, à matéria, contra uma modernidade industrializada («estamos no século XX», não esqueçamos), na qual «Deus ainda vive nos baldios» e se espera «o truque metafísico das aparições no coração da indústria, inopinadamente, sob a luz de projectores truculentos» (ibid.: 50). Há uma clara separação entre centro e margem, como se esse espírito manual, antes central, só pudesse aparecer nas margens, ou melhor, só pudesse existir em profundidade, pois esta mão «pensa» e «afunda-se pela terra dentro, sem se mover, só pela tensão do seu pensamento ininterrupto e firme – como para morrer, ou investir-se então de um estilo jamais manifesto» (ibid.: 51). A dicotomia centro/margem é ainda mais notória quando um pouco antes Herberto Helder escreve:
Talvez se esperasse que, ao expandir-se a noite, se pusesse a caminhar sobre os cinco dedos argutos, e instaurasse na terra uma constelação desgarrada e abstrusa fazendo porventura divagar todos aqueles que esperam Deus, quer nos subúrbios das cidades empenhadas em respirar, quer no próprio centro urbano: na catedral, no meio da praça maior.
(Helder, 1979: 50)
A catedral colocada no centro da cidade pode ser um símbolo, não necessariamente cristão, no sentido em que as catedrais foram tradicionalmente construídas sobre outros templos e lugares de culto (marcando precisamente a centralidade da vida comunitária), de certa forma absorvendo-os e substituindo-os, por isso a imagem desta catedral ligada a essa mão que se «afunda pela terra dentro» convoca todas as camadas de história enterradas, num sentido histórico, espiritual e simbólico. O «estilo jamais manifesto» pode ser aquele que incorpore todas as camadas, o que poeticamente aponta para os helderianos «poemas mudados para português». Posto que «poemas mudados» põem num mesmo plano textos ancestrais (do Antigo Egipto a enigmais maias e aztecas, passando por outras geografias e civilizações) e poemas contemporâneos, estes aparecem numa mesma horizontalidade e, de certo modo, integrados na poesia helderiana (cf. Gusmão, 2002: 374). «(mão)» aponta, assim, menos para o acto de escrever do que para o de reescrever, o gesto de recolha e de montagem de um passado e de um presente (já passado), de toda uma trama textual, fértil em profundidade e não à superfície onde as ervas estão secas. A mão, abertura a todos os possíveis, restabelece a ligação com a terra, a vida e a morte.
Se defendíamos uma íntima relação entre estes textos de Photomaton & Vox, constatamo-la através do excerto de «(mão)» atrás citado, pois o que acontece em «(outra)» é precisamente essa «constelação desgarrada e abstrusa» de mãos que invadem a cidade: «Outra mão começou a multiplicar-se» (ibid.: 51). Esta mão, independente do corpo, nem humana nem animal ou tanto humana quanto animal, começa a reproduzir-se, «deixando pelos cantos as suas ninhadas» (ibid.). A inédita e rápida proliferação de mãos nos «arrabaldes», recuperando a dicotomia centro/margem da cidade, não suscita reacção das pessoas que vivem no centro. Estas rapidamente se encontram cercadas por mãos, mãos que aristotelicamente podem tudo fazer, e, transformando-se não em revólver mas directamente em potência de morte, começam a estrangular pessoas. Herberto Helder acentua o facto de este ser um fenómeno juvenil, de uma energia incontrolável: «as crias desenvolviam-se depressa, entravam numa puberdade ofegante e, erguidas na luz que a adolescência dimana do seu próprio tormento e glória, tinham elas por sua vez novas ninhadas» (ibid.: 51). E sublinha também o espanto, que depois se transforma em medo, das pessoas, face à rapidez e novidade do fenómeno.
Notemos que essa novidade enérgica tem uma particularidade, porque após os estrangulamentos: «Não havia impressões digitais nos pescoços» (ibid.: 52). Se a impressão digital é o que marca a singularidade de um ser, como uma assinatura quase ideal, uma marca de presença, estas mãos são dela desprovidas, sublinhando precisamente o lado de «invasão bárbara», visível e invisível, no sentido em que o outro enquanto desconhecido é destituído de singularidade. No entanto, entre semelhança e diferença, carácter plural e singular, esta comunidade de mãos pode, como as pessoas, de facto tudo fazer:
Um dia publicou-se na cidade um novo jornal. Chamava-se A MÃO. Era redigido, impresso, distribuído por essas mãos sem gente. Os temas dos artigos e notícias eram tratados de um ponto de vista manual, e continham descrições de crimes horrendos e de ameaças de morte. O que não podem fazer mãos quando libertas do corpo? Até voar, supõe-se. E supõe-se bem [...].
(Helder, 1979: 52)
Se a mão de «(mão)» era «uma só», aqui, estas outras mãos multiplicam-se, são bárbaras, mas sofisticadas, parecem figurar uma alteridade desconhecida, embora semelhante (reproduzem-se, matam, escrevem, vêem). É, neste sentido, curioso lembrar as palavras de Henri Focillon, em «Éloge de la main», sobre as mãos humanas: «Elles sont presque des êtres animés. Des servantes ? Peut-être. Mais douées d'un génie énergique et libre, d'une physionomie – visages sans yeux et sans voix, mais qui voient et qui parlent. [...] La main est action : elle prend, elle crée, et parfois on dirait qu'elle pense» (Focillon, 1934: 101-102). Helder dá verdadeiramente corpo a estas mãos enérgicas com uma fisionomia própria, mãos que se insurgem contra as servidões (revoltam-se contra a cabeça, poderíamos dizer), tanto pelo excesso de acção (em «(outra)») quanto pela suspensão da acção (em «(mão)»). Uma mão insurrecta é aquela que tem a liberdade da escrita, que pode recusar a lei, criar. Em Herberto Helder, esta liberdade da escrita é, muitas vezes, associada a uma potência de morte, e a lei da metamorfose não será outra coisa: é preciso morrer para renascer no poema.
Potência de morte: «(outra)» termina depois da declaração de guerra das mãos às pessoas, que as primeiras fulgurantemente exterminam. Então, a cidade:
Que é agora habitada apenas por mãos, cujo estilo de vida não pode ser considerado em relação com o estilo das pessoas. Compreende-se uma vida inteiramente manual? Um pensamento manual? Os homens morreram sem compreender nada. Quem escreve este texto é uma das recentes habitantes da cidade, uma das triunfadoras dos homens. Eu, esta mão.
(Helder, 1979: 53)
O cenário é tão apocalíptico quanto de salvação (ou preservação). Ao contrário do poema de Konstandinos Kavafis, «À espera dos Bárbaros», os bárbaros chegam mesmo, chegam e exterminam, e o último passo do poema de Kavafis parece ser aqui invertido, pois as interrogações dessa mão que escreve eu aparecem como se fosse ela a dizer das pessoas: «E agora que vai ser de nós sem bárbaros. Esta gente era alguma solução» (Kavafis, 2005: 222). Se já não há outro, as questões «Compreende-se uma vida inteiramente manual? Um pensamento manual?» deixam, de certo modo, de fazer sentido. Contudo, noutra leitura, talvez paralela, a afirmação de que os «homens morreram sem compreender nada» está mais próxima de «(mão)», como se o mergulho nas profundezas da terra que tudo liga tivesse sido impossível, estrangeiro a esses homens que nada compreenderam. Numa leitura mais próxima de Kavafis, isto quererá dizer que, na circulação dos nomes, onde lemos mãos podemos talvez ler pessoas, homens.
Em Photomaton & Vox, o texto seguinte, «(mão negra)», pode ser novamente lido como uma espécie de resposta aos precedentes, o título sublinhando outra vez uma mão no singular, esta é a «mão negra», que imageticamente, pela cor, sugere essa mão que se «afunda pela terra dentro». Notemos que este texto tem um carácter marcadamente diferente dos dois anteriores, se àqueles podíamos atribuir uma certa narratividade e uma aproximação ao conto (sobretudo «(outra)»), ou mesmo alguma filiação nos poemas em prosa baudelairianos, neste falaremos sobretudo de um carácter ensaístico. Em «(a mão negra)», Herberto Helder liga «uma só mão» e a «outra mão» como fazendo parte do território do símbolo, do símbolo instável, «símbolo contra símbolo», como observámos no início. Evidenciando o seu carácter literário e do entendimento deste enquanto realidade, Helder diz-nos que a escrita «produz uma tensão muito mais fundamental do que a realidade. É nessa tensão real criada em escrita que a realidade se faz. O ofuscante poder da escrita é possuir uma capacidade de persuasão e violentação de que a coisa real se encontra subtraída» (Helder, 1979: 54), e acrescenta: «O talento de saber tornar verdadeira a verdade» (ibid.: 55). Trata-se, assim, também, de sublinhar o lado mais primitivo, antes referido, de ligação e de contaminação de tudo – «Tudo/ se transmite e transforma» (Helder, 1982: 374) –, que teria que ver com uma certa interpretação da modernidade, aquela que em entrevista Helder qualificou:
Não sou moderno, eu. A ênfase sublinha por um lado o carácter extremo da poesia e por outro a sua natureza extremamente dúbia de prática destruidora e criadora, e o segredo jubilatório dessa duplicidade; sublinha também, escandalosamente, o sentido não-intelectual, supra-racional, corporal, do poder da imaginação poética para animar o universo e identificar tudo com tudo. A cultura moderna tornou-se incapaz de tal ênfase, pois trata-se de uma cultura alimentada pelo racionalismo, a investigação, o utilitarismo. Se se pedir à cultura moderna para considerar o espírito enfático da magia, a identificação do nosso corpo com a matéria e as formas, toda a modernidade desaba.
(Helder, 1987: 195)
Estas palavras parecem, de certa forma, resumir o que se passa nesta sequência de Photomaton & Vox. A ideia de modernidade aqui renegada é aquela que podemos ligar ao racionalismo e à relação entre experiência e verificação; por isso, mais do que referir-se à arte (mesmo que ela esteja aí contida), Herberto Helder pensa a modernidade como uma forma de cultura, de relação – estabilizada, estabilizante – com o mundo. Em oposição a essa ideia de modernidade, advoga um «idioma demoníaco», que tenha o poder de tudo ligar e revolucionar, esse «espírito enfático da magia», que poderíamos também chamar espírito manual enquanto «identificação do nosso corpo com a matéria e as formas».
Nesta linha, a força demoníaca da linguagem é explicitamente explorada a partir do mito de Fausto no texto «O Nome Coroado» – lembremos que no poema «Demão» há uma «mão coroada» (Helder, 1982: 394) –, dando um outro sentido ao termo moderno:
Quanto ao Demónio, é instável, moderno, destrutivo, opositor, transgressor, renovador, inventivo. Introduz no mundo o movimento da surpresa e da inovação. Ama o fogo, a alegria – dizem esses demonólogos. Revoluciona a ordem, sempre, a cada figura do poder, onde e quando e como está. Ei-lo – cornífero, coroado, carismático – bode entronizado no meio dos homens. Evoca faunos, sátiros e silvanos, o velho Pã [...]. É dançante, ébrio, rítmico, lírico, rápido, festivo, tumultuário, incontido.
(Helder, 2006: 158)
O «idioma demoníaco» é moderno porque é verdadeiramente experimental, incorpora a força de insubordinação da linguagem que tudo pode transformar. O idioma está, assim, do lado da força e não da forma, é a força da linguagem que cria as formas, formas que não pertencem a nenhuma gramática prévia. No fundo, é isto que lemos em «(mão)», «(outra)» e «(a mão negra)», percebendo que esse gesto de experimentação tem, poeticamente, como consequência o intenso hibridismo dos géneros e a presença de um tempo crónico.
As mãos de Photomaton & Vox encarnam, assim, este espírito demoníaco. É a lei da metamorfose que está, uma vez mais, em causa, e devido a ela: «Chega a mão a escrever negro e conforme vai escrevendo mais negra se torna» (ibid.). Há uma mútua transformação entre o «escrever negro» e o tornar-se «mais negra» da mão, o conteúdo contaminando o veículo e vice-versa, afirmando, assim, a sua inseparabilidade e comum devir. É neste sentido que a mão helderiana é menos aristotélica, porque não é entendida enquanto suporte, podendo manipular todas as ferramentas não se confundindo com nenhuma. A mão de Helder, aristotelicamente possibilidade das possibilidades, confunde-se com as suas ferramentas, o que é, podemos aventar, outra forma de dizer: Herberto Helder ou o poema contínuo [ver nota 2].
De mão a mão
Muitas mãos helderianas não intervieram neste texto, algumas ligadas ao que aqui escrevemos, outras menos. Pensemos na mão que é gesto de passagem, dom – «Se alargas os braços desencadeia-se uma estrela de mão/ a mão transparente», em «(é uma dedicatória)» (Helder, 1979: 7) –, na mão experimental – «Escrevi a imagem que era cicatriz de outra imagem./ A mão experimental transtornava-se ao serviço/ escrito/ das vozes», em Última Ciência (Helder, 1998: 438) – na relação da mão com a biografia – «Esta mão que escreve a ardente melancolia/ da idade», em «(a carta da paixão)» (Helder, 1979: 43) –, a mão artesanal, que evocámos, em sintonia com o trabalho dos artesãos – «Que a mão lhe seja oblíqua./ Aplaina as tábuas baixas e sonolentas – torne-as/ ágeis./ [...]/ Por súbita verdade a oficina se ilude: que,/ de inspiração,/ o marceneiro transtorne o artesanato do mundo» em Do Mundo (Helder, 1994: 508) –, a mão e a caneta, que nos últimos livros ficou tão marcada pela «bic cristal preta» – «a mão plenária apanhando o dia de cada sítio em cada sítio transbordado:/ [...] e os dedos trabalhados pela bic apanham tudo, o cru e o cozido, o aberto e o fechado, os elementos leves ar e fogo» de A Faca não Corta o Fogo (Helder, 2008: 580) –, a mão e a obra – «tão curta canção para tamanha vida:/ aloés por onde o chão respira/ e a mão que brilha quando os toca,/ tão pouca mão em tamanha obra» (ibid.: 554) –, ou a mão esquerda, canhota, que aparece tantas vezes a partir de A Faca não Corta o Fogo e que é particularmente encarnada no livro póstumo Poemas Canhotos [ver nota 3].
Estas mãos podem conduzir-nos a outras mãos, a outros percursos, mas todas parecem sublinhar a metamorfose, o poder de nada ser e tudo devir, a abertura a todos os possíveis. Mãos, muitas mãos.
BIBLIOGRAFIA
AA. VV., Bíblia (s/d); ed. ut.: coord. geral de Herculano Alves, Lisboa/Fátima, Franciscanos Capuchinhos/Difusora Bíblica, 2012.
ARISTÓTELES, De l'âme (s/d); ed. ut.: trad. de Richard Bodéüs, Paris, Flammarion, col. «GF», 1993 [em tradução portuguesa: Sobre a Alma, trad. de Ana Maria Lóio, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2010].
Rémi BRAGUE (1988), Aristote et la question du monde. Essai sur le contexte cosmologique et anthropologique de l'ontologie, Paris, PUF.
Jean-Louis CHRÉTIEN (1992), L'Appel et la Réponse, Paris, Éditions de Minuit.
Henri FOCILLON (1934), «Éloge de la main»; ed. ut.: Vie des formes suivi de Éloge de la main, Paris, PUF, 2013, pp. 99-125.
Manuel GUSMÃO (2002), «Herberto Helder ou "A Estrela plenária"», posfácio a Herberto Helder, Le Poème continu. Somme anthologique, Paris, Institut Camões/Chandeigne, pp. 371-389.
Herberto HELDER (2015), Poemas Canhotos, Porto, Porto Editora.
--- (2014), Poemas Completos, Porto, Porto Editora.
--- (2009), Ofício Cantante: Poesia Completa, Lisboa, Assírio & Alvim.
--- (2008), A Faca não Corta o Fogo; ed. ut.: in Poemas Completos, Porto, Porto Editora, 2014, pp. 533-618.
--- (2006), «O Nome Coroado», Telhados de Vidro, n.º 6.
--- (1994), Do Mundo; ed. ut.: in Poemas Completos, Porto, Porto Editora, 2014, pp. 483-531.
--- (1988), Última Ciência; ed. ut.: in Poemas Completos, Porto, Porto Editora, 2014, pp. 397-438.
--- (1987), «Herberto Helder: Entrevista»; ed. ut.: Inimigo Rumor, n.º 11, 2001, pp. 190-197.
--- (1982), A Cabeça entre as Mãos; ed. ut.: in Poemas Completos, Porto, Porto Editora, 2014, pp. 369-396.
--- (1979), Photomaton & Vox; ed. ut.: Lisboa, Assírio & Alvim, 2013.
--- (1977), Cobra, Lisboa, & etc.
--- (1968), Apresentação do rosto, Lisboa, Editora Ulisseia.
--- (1963), Os Passos em Volta; ed. ut.: Lisboa, Assírio & Alvim, 9ª ed., 2006.
André LEROI-GOURHAN (1965), Le Geste et la Parole. II – La mémoire et les rythmes; ed. ut.: Paris, Albin Michel, 1985.
--- (1964), Le Geste et la Parole. I – Technique et langage, Paris, Albin Michel.
Konstandinos KAVAFIS (2005), Os Poemas, trad., pref. e notas de Joaquim Manuel Magalhães e Nikos Pratsinis, Lisboa, Relógio d'Água.
Silvina Rodrigues LOPES (2003), A Inocência do Devir, Lisboa, Vendaval.
Rosa Maria MARTELO (2016), Os Nomes da Obra: Herberto Helder ou o Poema Contínuo, Lisboa, Documenta.
--- (2010), «Cenas de Escrita (Alguns Exemplos)», A Forma Informe: Leituras de Poesia, Lisboa, Assírio & Alvim, pp. 321-343.
Notas:
1. Falamos do texto que se inicia por «A milhares de quilómetros e distância, eu olhava num jornal as mãos do criminoso» (Helder, 1968: 153-157). A ideia de crime aparece inúmeras vezes relacionada com a escrita, lembremos «(notícia breve e regresso)»: «Posso exprimir-me deste modo: escrevi cem poemas para desorientação policial. O meu prestígio estava inscrito nas zonas criminais, mas: é fácil rebentar cabeças a tiro ou estrangular gente com gravatas fulgurantes, segundo a lição hitchcockiana. Embora seja menos provavelmente abusivo cometer dois ou três homicídios do que cometer cem poemas» (Helder, 1979: 36). Sobre a ideia de crime em Helder, ver Manuel de Freitas, Uma Espécie de Crime: "Apresentação do Rosto"de Herberto Helder, Lisboa, &etc, 2001.
2. Sobre a equivalência entre o nome de autor e a obra, cf. Martelo, 2016: 11 e ss.
3. Sobre a mão esquerda, Rosa Maria Martelo escreveu: «O título Poemas Canhotos[...] parece apontar para uma escrita marcada pela sinistralidade que a tradição associou à mão esquerda, uma escrita desastrada em sentido etimológico, desprotegida dos astros. [...] Mas, por outro lado, o sentido do termo pode ser muito positivo, e Herberto Helder é o primeiro a reconhecer que "o canhoto e o curto" sempre lhe teriam definido o estilo [...]. Se a prevalência da mão esquerda bastava para condenar à fogueira as bruxas medievais, em tempos mais próximos Miró preferiu pintar com a esquerda por esta ser menos sábia do que a direita, menos treinada, e por isso mais livre e inocente: mais capaz de criatividade» (Martelo, 2016: 47).