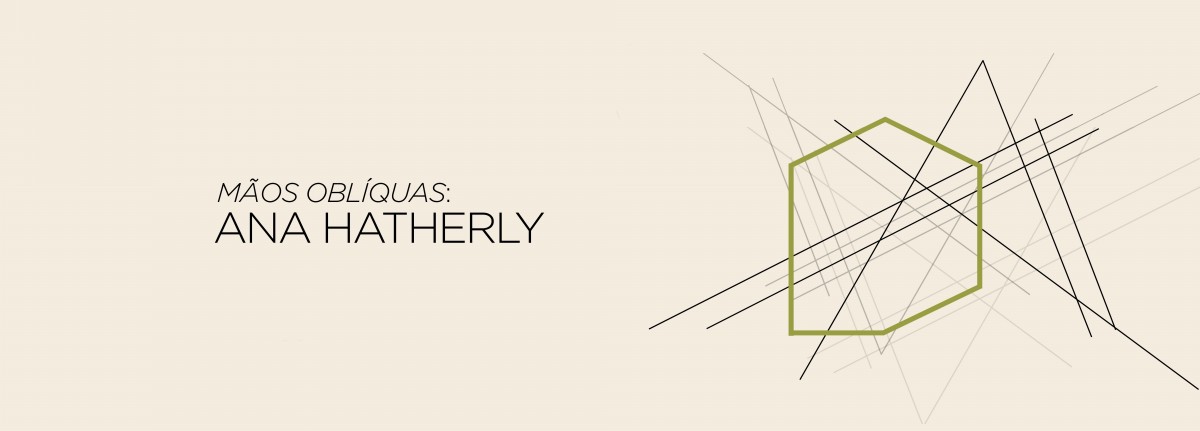Voltar à página "Projecto Mãos Oblíquas"
A Discípula delira. Começa a escrever uma carta de amor [...].
A Discípula pára de escrever porque entretanto começou a chorar copiosamente. Está muito comovida. Até nos comove a nós. Vamos tentar consolá-la. Aproximar-nos-emos dela e diremos:
– Olha, a mão decepada que poisa agora sobre a tua muito levemente empunha a esponja de vinagre que de tanto a ter levado aos próprios lábios deixou de ser mão. A serenidade vem de se ter perdido a mão por se ter deixado de poder agarrar. Bem vês, o vinho de fel corrompe toda a forma. [...]
A Discípula continua chorando. Estenderia bem depressa as minhas mãos por sobre o seu rosto, mas a mim também me cortaram as mãos há já bastante tempo. Sento-me a seu lado e choro. É que não tenho braços para a abraçar nem lábios para a beijar, e voz tão-pouco tenho.
O Mestre [1963], Lisboa, Quimera, 1995, p. 78-79.
A mão inteligente
A expressão «mão inteligente» tornou-se uma das expressões-chave quando falamos sobre a obra de Ana Hatherly, e podemos mesmo dizer que se transformou numa espécie de subtítulo desta obra que se situa no cruzamento mesmo das artes. Numa entrevista a Ana Sousa Dias, em 2004, Hatherly afirma mesmo que a «mão inteligente» se converteu numa espécie de etiqueta, mas parece que, mais do que uma fórmula, é a formulação mais justa que a autora encontrou para se referir aos seus gestos artísticos: «[E]u via aquilo que posso descrever como "a minha mão tornar-se inteligente"». Esta «mão» não é inteligente, ela torna-se (poieticamente, poderíamos dizer) inteligente, sublinhando tanto o processo, o criar, quanto a obra que ganha materialidade, concretude.
Hatherly usa pela primeira vez a expressão em 1973 – e usa-a desde logo entre aspas – no texto que está em posição prefacial a Mapas da Imaginação e da Memória, mas vai repeti-la em entrevistas, vai ser o título do documentário que Luís Alves de Matos lhe dedica e em que participa em 2002, Ana Hatherly – A Mão Inteligente, até, em 2004, dá-la como título a um livro que reúne, antologicamente, a sua obra plástica.
Lemos, então, em Mapas da Imaginação e da Memória:
Nos primeiros anos dessa década [de 1960] eu realizava já algumas obras gestualistas quando um dia, quase por acidente, adquiri um dicionário de inglês-chinês, que incluia uma larga secção dedicada ao chinês arcaico. É certo que nessa época eu conhecia já algumas escritas arcaicas e estava relativamente bem informada àcerca da importância que, ao longo de milénios, a palavra como imagem (ou o signo em geral) teve na história da evolução das formas, culminando na actualidade nas experiências letristas e da poesia concreta que, aliás também pratiquei; mas na verdade, o meu trabalho de pesquiza sistemática da escrita começou propriamente quando iniciei o estudo metódico desse dicionário.
Ao iniciar esse estudo estava fascinada e obcecada.
À medida que ia aprofundando o meu conhecimento gestual dessa escrita eu via, na destreza crescente com que desenhava esses caracteres, na fluência do meu conhecimento deles, eu via aquilo que posso descrever como "a minha mão tornar-se inteligente", quer dizer, experimentalmente observava, ao mesmo tempo que realizava, o acto de conhecer essa escrita; porque o estudo dessa caligrafia foi um meio que eu escolhi para realizar uma investigação que poderia ter seguido outro caminho ou utilizado outro veículo, igualmente adequado, uma vez que o meu empenho nesse acto era, acima de tudo, o de investigar, tanto quanto a minha subjectividade o permitisse, o conhecimento do acto criador e da sua gratuitidade.
Mapas da Imaginação e da Memória, Lisboa, Moraes, 1973, s/p.
A mão devém, então, inteligente nos movimentos de escrever, desenhar, pintar, como se cada um pudesse dar origem a outro, em derivação e contaminação mútuas. E é pela repetição que a mão se torna inteligente, que se liberta da rigidez do gesto que executa. Seria, no fundo, uma aprendizagem quase musical, como se da repetição de uma pauta se chegasse a uma obra outra que nunca poderia coincidir com a pauta escrita, lida. Em Mapas da Imaginação e da Memória, essa pauta no fundo desaparece, libertando-se assim a mão – a mão que copiava os caracteres arcaicos chineses – da gramática, da sintaxe, do sentido que uma língua necessariamente implica. A «inteligência» desta mão não é a da simples aprendizagem e da sua superação, é o guardar – o poder de guardar – uma memória ancestral, a de gestos e de sentidos que foram escritos milhares de anos antes noutras geografias, noutros tempos. Hatherly parte de uma investigação apurada das escritas arcaicas para construir novas escritas, sendo que a cada tentativa é como se todas as escritas que a mão aprendeu passassem – se fizessem sentir – na que acabava de nascer. E é nesse sentido que pratica a escrita como um ofício, e que através da prática se liberta do que na repetição pode condicionar, levar para o mesmo, para, pelo contrário, diferir, que é o mesmo que dizer criar. Pela repetição dos gestos, a escrita abandona o domínio da estrita racionalidade (simbolizada pela cabeça), e é como se a inteligência se encontrasse aí, numa espécie de superação da mão em relação à cabeça. É esse um dos gestos experimentais mais importantes que atravessa toda a obra de Hatherly.
Não se trata apenas da repetição, importa sublinhar também a utilização do verbo «ver» – «eu via», repete Hatherly –, pois o acto de conhecer a escrita implica a observação e a realização, simultaneamente, uma não precedendo a outra. Essa simultaneidade diz então respeito a esse momento em que a escrita regressa ao seu modo primeiro: imagem.
Sobre o prefácio de Mapas da Imaginação e da Memória:
Ana Hatherly – [...] «eu copiei, copiei, copiei, copiei, copiei até a minha mão se tornar inteligente».
Ana Sousa Dias – E aí está.
Ana Hatherly – E agora ficou uma etiqueta, mas isso já foi nos anos 60. A etiqueta ficou. E realmente descreve todo o meu processo de trabalho, eu primeiro tenho que interiorizar alguma coisa, tenho que pôr o corpo todo, tenho que pôr tudo, tudo o que sou tenho de pôr naquilo que estou a fazer, por isso levo bastante tempo para chegar a algum resultado. E quando chego a esse resultado, então posso partir para outra investigação.
Entrevista conduzida por Ana Sousa Dias para o programa Por outro Lado, na RTP 2, em 2004.
264. Os meus fantasmas erguem-se do passado estendendo as mãos. Passam rápidos, em efeito Doppler. O seu brado desenha-se em parábola. Que imensa e diabólica goela é a memória.
351 Tisanas, Lisboa, Quimera, 1997, p. 104.
A mão que tece
Em Hatherly, somos frequentemente remetidos para uma ideia de arte que podemos considerar próxima do artesanal. Escrever, desenhar, pintar são acções exercidas como ofícios, implicando assim a repetição dos gestos, o experimentar das matérias, o criar formas.
Quando Hatherly publica em 1979 «O Tacto», quinto texto do volume conjunto Poética dos Cinco Sentidos – La Dame à la Licorne (os outros textos são: «I. A Vista», de Maria Velho da Costa, «II. O Ouvido», de José Saramago, «III. O Olfacto», de Augusto Abelaira, «IV. O Gosto», de Nuno Bragança e «VI. A Sexta», de Isabel da Nóbrega), só podemos considerar como natural que dentro da temática dos cinco sentidos, Hatherly escreva sobre o tacto. «O Tacto» é um texto em prosa particularmente importante. Através de uma ficção ligada à série de tapeçarias medievais La Dame à la Licorne, expostas no Museu de Cluny em Paris, Hatherly cria uma narrativa em torno da criação da tapeçaria, isto é, não trata propriamente a figuração, os motivos (mesmo que estes sejam essenciais), mas o próprio fazer – a ideia de ofício que temos sublinhado. Na sua superfície é, então, um texto sobre as tecedeiras que tecem La Dame à la Licorne : le toucher, e é, nesse sentido, sobre a criação, evidenciando a relação da mão que experimenta (faz, cria) com a mão que sente; ambas estão em relação directa com a matéria, num reenvio mútuo e vital.
O fundo da tapeçaria é extremamente rugoso. As irregularidades da textura contra as pontas dos dedos definem um trajecto singularmente acidentado. A trama porém é muito regular um sistema de coordenadas em que as mãos das tecedeiras produzem a terceira dimensão. Os fios verticais esticados contra os horizontes causam a irregularidade. Os dedos introduzem outra irregularidade da sua agitação controlada. Fio após fio a alternativa da passagem quase infinitamente repetida os dedos palpando agarrando empurrando procurando o caminho: tacteando como se diz. As mãos percorrem a geometria do tear como insectos. Que outra coisa são as asas senão os braços distendidos até à função de vela (meus braços remam no vento...) e a pele esse revestimento impermeável sabemos como é maravilhosamente translúcida.
«O Tacto», in AA.VV., Poética dos Cinco Sentidos – La Dame à la Licorne, Lisboa, Bertrand, 1979, p. 47.
A «terceira dimensão» não é apenas visual, é sobretudo outro nome para aquilo que é criado pela repetição dos gestos, aquilo que excede a repetição bruta para se tornar verdadeira repetição, isto é, repetição criadora.
A metáfora da escrita e da criação enquanto tecer, entrelaçar de fios, que significam escritas, imagens, sentidos, data pelo menos da Odisseia e de Penélope que faz e desfaz a sua tapeçaria. Essa Penélope, que tenta dominar o tempo, reaparece na obra de Hatherly em 2007:
A NEO-PENÉLOPE
Não tece a tela
Não fia o fio
Não espera
Por nenhum Ulisses
Às portas do sangue
O herói adormecido
Agora está deitado
Ao Polifemo abraçado
Seu próprio satélite forçado
Há um intervalo nímio
Nas coisas
Que entre si independem
A Neo-Penélope, Lisboa, & etc, 2007, p. 15.
Esta «Neo-Penélope» recusa-se a produzir tanto quanto a esperar, é uma figura que diz (insubordinadamente) «não». Em «O Tacto», pelo contrário, não há negação:
As tecedeiras trabalham. Das suas mãos surgem as mãos da Dama. A mão esquerda apoia-se no chifre cónico. Um mastro azul de luas cresce até às mãos da Dama. O mastro é de seda. A Dama veste um vestido de seda. Tudo é azul ou branco ou vermelho. [...] Três vezes a lua surgirá no firmamento. Três ciclos completos, três meses. As tecedeiras contam pelos dedos. A tapeçaria é uma pele de seda que lhe sai dos dedos. Os dedos húmidos. As mãos húmidas começam a estar viscosas. Aperta a mão contra esta seda viva. Escorre pela mão por entre os dedos. Na boca entreaberta a saliva sobe. Depois escorre. Olhos fechados sentir a mão. Sentir na mão o estremecimento a convulsão. O nascimento. O vermelho e o branco. A seda a lã as mãos que buscam puxam tiram a humidade o visco por fim o grito. O azul das órbitas. O tremor do medo o frio as pancadas. Por fim a água a roupa o leite. O primeiro gesto da mão procurando o contacto o calor animal o sabor o cheiro a forma do animal. Sentir com a pele. Envolve-me em teus braços prende-me nesses laços. A geometria da relação.
«O Tacto», in AA.VV., Poética dos Cinco Sentidos – La Dame à la Licorne, Lisboa, Bertrand, 1979, pp. 51-52.
Não somente a repetição, o labor, mas também o espelhamento do que faz no que é feito, pois das mãos das tecedeiras surgem «as mãos da Dama».
Se o tacto é representado convencionalmente pela mão, este é, contudo, o sentido que não tem órgão: o tacto é o corpo todo.
Sensações físicas: a doçura da seda, a transpiração e a humidade, a saliva.
É a mão que sente: «olhos fechados sentir a mão»: as texturas, o meio (água), o interior (a convulsão).
A tapeçaria como nascimento: sangue, violência, grito.
A mão que escreve
Há uma importante dimensão metatextual na obra poética de Ana Hatherly que tem que ver com o gesto ensaístico que perpassa a obra, particularmente a obra poética. Em «Notas para uma Teoria do Poema-Ensaio», de O Cisne Intacto, escreve:
A poesia evolui actualmente no sentido do ensaio porque a arte, com todo o seu pensamento subjacente e toda a sua consciência conflitual básica, não pode agora definir-se verdadeiramente senão como retrospectiva ou projecto.
O Cisne Intacto, Porto, Limiar, 1983, p. 84.
O poema pode, então, ser – é-o muitas vezes – um lugar de reflexão sobre a criação. E a mão aparece associada a esse pensamento poético enquanto condutora da escrita.
o poema é
para ver-se
ler-se
(às vezes ouvir-se)
mas
sobretudo
adivinhar-se
o poeta é
uma sombra
um perfil
um desaparecimento
mas
sobretudo
a despedida mão feita poema
O Cisne Intacto, Porto, Limiar, 1983, p. 54.
O poema «é», deste modo, o lugar de uma dupla articulação, a do «ver» e do «ler», e uma terceira dimensão que aparece como eco, o «ouvir» (sugerida pelo parêntesis). A adversativa «mas» introduz, por seu lado, o que vai exceder as duas (ou três) dimensões: o «adivinhar», afastando-se do mais concreto. O mesmo movimento do material ao inefável parece ser acompanhado pelo poeta, que não seria senão «sombra», «perfil», «desaparecimento». A segunda adversativa «mas» introduz essa noção enigmática de que «o poeta é» «sobretudo» «a despedida mão feita poema»: momento em que se retira o poeta e fica o poema, poema marcado pela mão que deixa de ser mera condutora para se transformar em poema, mão que desaparece e simultaneamente fica inscrita no poema como rasto de gestos.
De Mapas da Imaginação e da Memória, em 1973, atravessando O Cisne Intacto, em 1983, a A Idade da Escrita, em 1998 (e poderíamos nomear outros), se o gesto parece menos radical, uma mesma obsessão atravessa a obra: a escrita como princípio e fim do gesto de criação, a identificação entre escrita e imagem, o devir imagem da escrita. E Hatherly fá-lo advogando explicitamente uma ideia de ensaio, isto é, de experimentação, ensaiando (o que envolve também a repetição) a escrita, experimentando então a linguagem e a forma, dando a ver as costuras. Ao nomear o poema homónimo de A Idade da Escrita «poema-ensaio», a autora sugere assim que o processo (a escrita, o pensamento do que se está a fazer e do que se vai apresentar) não é elidido, mas evidenciado no poema, torna-se visível e sensível.
A IDADE DA ESCRITA – POEMA-ENSAIO
I
Costumo dizer que a minha actividade começa com a escrita
porque toda a minha actividade gira à volta da escrita.
Mas não há só uma escrita nossa
a que escrevemos para nós:
a escrita é POR CAUSA DO TEMPO
é POR CAUSA DOS OUTROS
é para não esquecermos
é para sermos lembrados
é PARA SERMOS ALÉM DE EXISTIRMOS
sinal
vínculo
aceno
Costumo dizer que a nossa era é
a era da ESCRITLIDADE
a da IDADE DA ESCRITA
porque a nossa era é
a era da ESCRIBATURA
a IDADE DA ESCRAVATURA DA ESCRITA
A noção de ESCRITA alargou-se
a TUDO
a QUASE TUDO
porque a escrita é sinónimo de IMAGEM
imagem para se ver
para se ter
para se ser
Escrevo para compreender
para apreender:
a escrita é o que me revela
um mundo
o mundo
II
Escrevo e descrevo
e descrevendo
o tempo insere-se nas linhas
e nas entrelinhas em que escrevo
escrevendo imagens
que a si mesmas se descrevem
descrevendo o tempo
A ESCRITA
é a petrificada imagem de um percurso
do rio antigo
da seta temporal
Ainda não sabemos pensar de outro modo
De caminho o arabesco insinua-se
e mesmo quando maquinal
a escrita prolonga A MÃO
é o prolongamento extensíssimo da mão
Indica:
disciplina
explosão contida
Onda surda é a escrita.
A Idade da Escrita, Lisboa, Edições Tema, 1998, p. 8-9.
No poema «I», a escrita aparece novamente associada ao tempo e à inscrição: «sinal/ vínculo/ aceno». Como anos antes, num texto de 1979, recuperado em 1992, em «Autobiografia Documental», Hatherly lembra que a sua «actividade começa com a escrita». No entanto, como no segundo passo desse texto [que reproduzimos no separador «Da Mão e da Imagem»], a questão da escrita compreende sempre o seu reverso, a imagem, porque para Hatherly as duas são indestrinçáveis. Em «I», a escrita é, por um lado, entendida como escravatura, e podemos pensá-la como uma escravatura do sentido unívoco, das normas e da normalização da comunicação (directa, concreta, numa direcção precisa). Pelo contrário, a escrita é estendida a «tudo» ou a «quase tudo», no sentido em que há uma identificação com a imagem, isto é, com uma dimensão que é, pelo menos em certa medida, não discursiva, que suspende, mesmo que momentaneamente, o sentido. É deste modo que a «escrita é sinónimo de imagem» e que implica uma extensão do mundo. A prática da escrita – «escrevo», na primeira pessoa do singular – é o que «revela», verbo da ordem do visual, do dar a ver, um mundo em particular e o mundo em geral.
No poema «II», de «A Idade da Escrita», Hatherly insiste novamente na questão do tempo e da ancestralidade da escrita. A identificação entre imagem e escrita regressa, pois nas entrelinhas do que escreve, escreve imagens – suscita, dá a ver, através das palavras – que têm em si a capacidade de se descreverem, isto é, de dizer mais do que é já visível. A distinção entre «escrever» e «descrever» não é evidente, descrever está contido em escrever, é uma forma particular de escrever, uma que através da sucessão de quadros ou detalhes ofereceria uma vívida imagem. O tempo destabiliza esse enraizamento. «A escrita prolonga a mão», não é a escrita que é anterior, mas a mão, como se o corpo se tornasse ele mesmo escrita. E não é um simples prolongamento, esse prolongamento é «extensíssimo». Como muitas vezes em Hatherly, a ideia de rigor aparece ligada à aprendizagem, que é visível aqui pela «disciplina», que é necessária, mas tem de ser transgredida: uma «explosão contida». E a metáfora expande-se ainda com a ideia de «onda surda», uma propagação da escrita.
E a mão continua a escrever:
A MÃO QUE ESCREVE
Por entre incríveis e encantados freios
a mão que escreve
ilumina
da simples palavra
o trabalho obscuro em seu dentro.
Oh figura radiosa
que abismos sãos os teus
que anseios veementes não atende
a tua idealidade conseguida?
Dádiva da alma
que fala sem ter voz
que voa só para o único
e dá-se a conhecer só no oculto
tu és oferenda
a um infinito furor
A mão que escreve
prende à memória
a mais esquiva sereia
A Idade da Escrita, Lisboa, Edições Tema, 1998, p. 13.
O tempo também é uma percepção graficamente representável. Filmagem e projecção. Um fio atravessando o rectângulo do écran. O voyeurismo da percepção das imagens. As tecedeiras trabalham bastante cegamente. Três filas de vermelho ou dez pontos de azul ou três de branco. A simplificação máxima da abstracção máxima. Um mondrianismo cumulativo. A tapeçaria cresce como um líquido que subisse num vaso. Encosto o rosto. É frio. Os dedos das tecedeiras gelam de fadiga. Torcem as mãos batem com elas agitam-nas rindo e praguejando. Que sentirá a aranha.
«O Tacto», in AA.VV., Poética dos Cinco Sentidos – La Dame à la Licorne, Lisboa, Bertrand, 1979, pp. 51.
No princípio, era a mão
E essa mão indistintamente escreve e desenha.
É preciso não esquecermos que a escrita alfabética é relativamente recente e que muito antes dela já se estabelecia a comunicação por imagens. Assim, se quisermos estudar a origem da poesia como escrita dum texto, nunca a poderemos dissociar do seu aspecto pictórico. Percorrendo a história mundial das imagens produzidas pelo homem, encontraremos quase sempre paralelamente escrita e imagem, sendo muitas vezes uma a outra.
A Reinvenção da Leitura, Lisboa, Futura, 1975, p. 5.
O princípio da escrita e o princípio da imagem formam uma espécie de quiasmo na obra de Hatherly. Cada uma é princípio e origem da outra, o gesto é híbrido, espelham-se até ao ponto no qual escrita e imagem são indiscerníveis. Ao dizer que não podemos dissociar a escrita e o seu aspecto pictórico, o que Hatherly evidencia nos seus desenhos é essa radical e ancestral matriz comum, como se a escrita guardasse sempre um carácter hieroglífico que a autora não cessa, por sua vez, de dar a ver. E esse gesto era trabalhado logo em Mapas da Imaginação e da Memória (1973) e em A Reinvenção da Leitura (1975), e prolonga-se, atravessando a obra; pensemos, por exemplo, em Os Anjos Suspensos (Homenagem a Borloch) (1998).
Os desenhos de Hatherly atingem esse limite em que a escrita se torna ilegível, suspendendo toda e qualquer função primeira de comunicação. Porém, como sublinha Deleuze num outro contexto (A Imagem-Tempo. Cinema 2), a leitura é uma função do olho, e, em Os Anjos Suspensos (Homenagem a Borloch), começamos a ver essa figura ou figuras – parecem várias, como se cada traço fosse rasto de uma figura primeira – em ascensão, com uma grande leveza, como que em levitação, levando essas palavras ou frases encarnadas, que fazem a figura, para outra dimensão.
Numa das mais famosas passagens que escreveu sobre a sua obra, Hatherly afirma o duplo princípio da escrita e da pintura:
«O meu trabalho começa com a escrita – sou um escritor que deriva para as artes visuais através da experimentação com a palavra. A Poesia Concreta foi um estádio necessário, mas mais importante foi o estudo da escrita, impressa e manuscrita, especialmente a arcaica, chinesa e europeia.
O meu trabalho também começa com a pintura – sou um pintor que deriva para a literatura através de um processo de consciencialização dos laços que unem todas as artes, particularmente na nossa sociedade. Esta consciencialização tornou-se mais importante quando comecei a utilizar também a fotografia e o cinema como meio de investigar os processos de expressão e comunicação.
O desenho representa uma parte essencial do meu trabalho, aquela que eu mais extensivamente pratiquei, depois da escrita literária. Em suma, posso dizer que o meu trabalho diz respeito a uma investigação do idioma artístico, particularmente do ponto de vista da representação – mental e visual.»
Este texto, que escrevi para o catálogo da minha exposição em 1979 na Galeria Tempo, intitulada Desenho no Espaço, sintetiza alguns aspectos importantes do meu trabalho criativo [...].
«Autobiografia Documental», Ana Hatherly: Obra Visual: 1960-1990, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1992, p. 75.
Se essa relação eminente entre escrita e desenho é evidente em toda a obra, ela encobre outra questão que é essa investigação sobre os processos de expressão e comunicação, muitas vezes suspendendo-os para melhor os aprofundar. Um dos melhores (e provavelmente mais paradoxais) exemplos dessa inquirição talvez seja os dois filmes que realizou para a Direcção Geral da Educação Permanente no pós-25 de Abril, Diga-me, o que É a Ciência? Nas duas curtas-metragens, temos, por um lado, um inquérito de rua – na primeira, são inquiridos maioritariamente trabalhadores agrícolas, na segunda, operários de uma fábrica –, tratando um lado da comunicação concreto, a resposta a duas perguntas (também a suspensão da comunicação face à não-resposta, aos silêncios, de alguns dos inquiridos); por outro lado, sobretudo na segunda curta-metragem, há uma abstracção que vem das formas filmadas, tanto os enquadramentos quanto o movimento das máquinas no plano, como se fossem já só formas geométricas. Para lá do lado mais político dos filmes, das perguntas «o que é a técnica?» e «o que é a ciência?» a esta abstracção das formas (mais notória na primeira versão de 1976, em que, ao contrário da de 2009, no início, durante um momento significativo só vemos as máquinas, sem voz over), Hatherly parece investigar a relação entre essa linguagem que começa, tacteante, a responder, a dar forma à linguagem, e as máquinas, também elas dando forma ao informe.
A mão não conduz apenas a escrita, a mão estabelece também a relação entre o orgânico e o inorgânico, a máquina.
103. Sento-me e escrevo. É a minha tisana matinal. Penso no acto de escrever. O real é uma retrospectiva: registar recolher nomear esquecer. A mão que obedece é uma bobina de seis pontas quando escreve. Esse é o mundo natural do escritor.
351 Tisanas, Lisboa, Quimera, 1997, p. 57.
E, depois, a imagem
Em A Reinvenção da Leitura, Hatherly aborda claramente a suspensão do sentido que a imagem implica:
O silêncio da escrita – a escrita é uma fala simbólica, muda – conduz o escritor à reflexão sobre o silêncio das palavras, implícito nela. Mas o mesmo problema de silêncio se põe a outras formas de expressão artística, como, no fundo, a todas as formas de expressão. «O que pode ser mostrado não pode ser dito», declara Wittgenstein na Proposição 4.1212. E nesta asserção bem poderíamos ver uma ilustração eloquente de todas as formas de comunicação visual.
O poema visual – texto-visual, texto-imagem – é literal e literariamente silencioso. A legibilidade não literal que pode atingir, permitiu a sua difusão à escala mundial: na confusão e na incomunicabilidade das línguas e, concomitantemente, das civilizações e culturas (Joyce disse que a Torre de Babel é a Torre do Sono), a comunicação pela imagem, comunicação não-verbal, torna-se uma espécie de língua franca, uma linguagem universal.
E no despojamento das implicações da tradição literária, despem-se as roupagens da sociedade que lhes deu origem, criticam-se, até por assimilação, as suas ideologias e as suas técnicas, faz-se um auto-de-fé das ideias preconcebidas de como deve ser a escrita, o escritor, o texto.
A Reinvenção da Leitura, Lisboa, Futura, 1975, pp. 24-25.
O poema visual tende, então, a insurgir-se contra a ordem pré-concebida da leitura, mas guarda esse desejo de ser lido, de fazer eco, de se projectar. O facto de se dizer poema, do lado da linguagem e da literatura, e de se dizer visual, do lado da imagem e da plasticidade, cria um lugar ambíguo, afirmando-se em simultâneo dos dois e de nenhum, isto é, afirmando a absoluta singularidade da forma, dessa imagem a ser lida.
O Escritor é um dos livros no qual Hatherly leva mais longe o gesto do poema ou texto visual. No prefácio, hoje célebre, escreve:
O Escritor é uma narrativa em 27 fases. Cada imagem é um pictograma, um fotograma congelado na página, cujo significado é posto em movimento pela leitura. A leitura será sempre múltipla porque à ilusão de ver se acrescenta a ilusão de ler. Todo o pictograma é criptograma.
A história da imaginação é também a história do seu vocabulário e este implica aquilo a que Coleridge chamou «a voluntária suspensão da descrença».
O Escritor, Lisboa, Moraes, 1975, s/p.
O que é particularmente interessante na obra de Hatherly é que independentemente da arte ou do género, da fase, dos anos, as mesmas questões regressam, repetem-se expandindo, diferenciando-se, justificando verdadeiramente essa mão que pela repetição se torna inteligente, isto é, se torna sempre outra, nova. Em 2003, em O Pavão Negro, essa mão que guarda a ancestralidade da escrita ganha uma outra figura:
A PALAVRA-ESCRITA
A palavra-escrita
é um labor arcaico:
sulca enigmas
venda e desvenda
o sentido do gesto
É uma imagem detida
recolhida do mais fundo cinema íntimo
onde o verdadeiro
é um ser invisível
O cinema do mundo está aí
onde houver ilusão
onde houver vontade de ver
mesmo que seja só o nada
O Pavão Negro, Lisboa, Assírio & Alvim, 2003, p. 29.
Ou, então, lemos uma «tisana»:
415. Sento-me à porta de mim mesma e penso: o tempo é uma espécie de revelador fotográfico ao contrário: faz com que as imagens em vez de aparecerem, desapareçam. Toda a revelação é um puzzle de hipóteses. Perscrutar é o trabalho do criador que procura, o que martela o seu coração.
463 Tisanas, Lisboa, Quimera, 2006, p. 150.
E, de novo, a mão
Numa entrevista a propósito da exposição Hand Made: Obra Recente, na Fundação Calouste Gulbenkian em 2000, Ruth Rosengarten aproxima, não as confundido, a noção de «mão inteligente» da de «handmade». Hatherly concorda, e afirma: «Exactamente. Mas o importante é que é a mão que faz. E por isso é que eu agora, designo a minha exposição como Handmade, porque comecei a faze imagens manualmente e agora continuo» («Queda Livre», entrevista conduzida por Ruth Rosengarten, Arte Ibérica, n.º 4, Maio, 2000; in Ana Hatherly, Interfaces do Olhar: Uma Antologia Crítica, uma Antologia Poética, Lisboa, Roma Editora, 2004, p. 118).
«Handmade»: como se Hatherly não pudesse escrever «feito à mão», como se esta mão (recente) implicasse uma língua estrangeira e, por isso, um gesto de tradução, ou pelo menos, de transporte e transformação.
Essa relação entre a «mão inteligente» e o «handmade» é palpável no catálogo da exposição, no qual os caligramas iniciais nos remetem imediatamente para as primeiras experiências da «mão inteligente». A organização do catálogo em sete secções é então particularmente significativa: «Caligramas» e «Labirinto de letras» dizem respeito à forma, nomeiam o que poderíamos chamar géneros pictóricos; «Livros», que pensamos serem reproduções de obras já em livro (as legendas não nos fornecem informações adicionais, contendo apenas o título, os anos ou a menção «work in progress»); temos depois duas rubricas que revelam os materiais «Pintura sobre tela» e «Pintura sobre cartão»; e, por fim, duas que constituem o título de séries, «Car wash» e «Neve». Se o título da exposição revela todo um programa, o de uma obra «handmade», «feita à mão», pensada com e pelas mãos, os títulos dos capítulos revelam-nos ainda mais, como se as mãos descobrissem a forma e os materiais (mesmo os títulos das duas séries têm uma dimensão háptica ligada à água: o lavar um carro, o sentir a neve).
O sangue, líquido e vermelho – as mãos vermelhas de sangue e uma metáfora da criação:
428. Acordo no meio da noite despertada por um sonho perturbante. O sonho era que subitamente tenho uma violenta hemoptise. O sangue jorra-me da boca, cai-me sobre as mãos tingindo-as de um violento vermelho. É uma emergência mas ninguém me acode. Já acordada comento para mim própria: é uma metáfora da criação. A poesia que eu faço é uma sangria do meu corpo. E ninguém me salva.
463 Tisanas, Lisboa, Quimera, 2006, p. 154.